Módulo 6: Estruturação do campo da atenção psicossocial no contexto da reforma psiquiátrica e do sus
Unidade 2: Controle Social no Campo da Saúde Mental
As origens do movimento antimanicomial
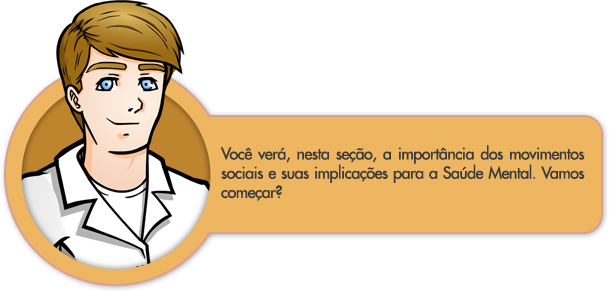
Os movimentos sociais possuem pelo menos duas dimensões acerca de sua importância:
- Seus impactos na esfera cultural, buscando alterar padrões de sociabilidade.
- As investidas no campo da institucionalidade com vistas a democratizar as agências e instituições político-sociais. Nesta perspectiva, a noção de política diz respeito a uma prática no cotidiano das relações sociais (LUCHMANN; RODRIGUES, 2007).
 Observe que é na combinação de fatores no plano empírico - já que os diferentes movimentos sociais apresentam diferentes significados quanto aos seus objetivos, suas estruturas e mecanismos de organização - que os movimentos sociais apresentarão diferentes caracteres.
Observe que é na combinação de fatores no plano empírico - já que os diferentes movimentos sociais apresentam diferentes significados quanto aos seus objetivos, suas estruturas e mecanismos de organização - que os movimentos sociais apresentarão diferentes caracteres.
O caráter conflitante e antagonista está relacionado às alterações nos mecanismos e nas ressignificações do sentido da produção nas sociedades complexas: produzir é controlar os sistemas simbólicos, da produção das informações, dos sentidos e das relações sociais. As questões antagonistas consideram o tempo, o espaço, as relações, o (si mesmo) dos indivíduos. Assim, surgem questões relacionadas com o nascimento, com a morte, com a saúde, com a doença que colocam em primeiro plano a relação com a natureza, a identidade sexual e afetiva, e do agir individual (LUCHMANN; RODRIGUES, 2007).
No campo da saúde mental, não é diferente. O movimento social da Luta Antimanicomial, em suas diferentes formas de organização, tem sido um protagonista político e social que luta para transformar as relações entre o Estado, a Sociedade e o Mercado com a loucura e o sujeito desta vivência.
Entendemos, como Luchmann e Rodrigues (2007), que o manicômio é a tradução mais completa da exclusão social, visa o controle, a violência e a mortificação do ser. Seus muros escondem a violência (física e simbólica) através de uma roupagem protetora que desculpabiliza a sociedade e descontextualiza os processos sócio-históricos da produção e reprodução da loucura.
Portanto, a ruptura com o modelo manicomial significa, para o movimento, além do fim do hospital psiquiátrico, seu ponto de partida: a “contraposição à negatividade patológica construída na observação favorecida pela segregação e articuladora de noções e conceitos como a incapacidade, a periculosidade, a invalidez e a inimputabilidade” (ABOU-YD; SILVA, 2003, p. 42). Para as autoras, significa ainda “mirar a cidade como o lugar da inserção”, a possibilidade de ocupação, produção e compartilhamento do território a partir de uma cidadania plena.
As Origens do Movimento Antimanicomial
O ano de 1987 destaca-se pela realização de dois eventos importantes no país:
- A I Conferência Nacional de Saúde Mental.
- O II Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental – MTSM, em Bauru/SP.
 Este segundo evento vai registrar a presença de associações de usuários e familiares. Assim, com a participação de novos atores, o MTSM passa a se constituir em um movimento mais amplo, na medida em que não apenas trabalhadores, mas outros atores se incorporam à luta pela transformação das políticas e práticas psiquiátricas (AMARANTE, 1995).
Este segundo evento vai registrar a presença de associações de usuários e familiares. Assim, com a participação de novos atores, o MTSM passa a se constituir em um movimento mais amplo, na medida em que não apenas trabalhadores, mas outros atores se incorporam à luta pela transformação das políticas e práticas psiquiátricas (AMARANTE, 1995).
Esse momento marca uma renovação teórica e política do MTSM, por meio de um processo de distanciamento do movimento em relação ao Estado e de aproximação com as entidades de usuários e familiares que passaram a participar das discussões. Neste cenário, instala-se o lema do movimento: Por Uma Sociedade Sem Manicômios (AMARANTE, 1995).
Acompanhe na animação a seguir mais detalhes sobre o tema:
No espaço de seis anos, compreendidos entre 1987 e 1993, podemos observar que várias articulações foram realizadas, diversos núcleos do movimento foram se constituindo e no ano de 1993 foi realizado, então, o I Encontro Nacional da Luta Antimanicomial em Salvador/BA, cujo eixo principal das discussões girava em torno da organização do movimento. O Movimento Nacional de Luta Antimanicomial (MNLA) tem seu primeiro encontro.
| Palavra do Profissional |
Acompanhe na animação a seguir quais são estes encontros e onde foram realizados:
As formas de organização no campo da luta antimanicomial no Brasil podem ser expressas em: Movimento Nacional de Luta Antimanicomial (MNLA); Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA); Movimentos de iniciativas Associativas que não se filiam aos movimentos sociais, mas ligadas a serviços; associações que se filiam e compõe núcleos de luta antimanicomial; usuários e familiares que militam autonomamente; lideranças que lutam por movimento de usuários independentes; e lideranças que militam por um Movimento de usuários e familiares juntos independentes.
Para melhor entendimento da organização dos dois movimentos acima referidos – MNLA e RENILA -, na próxima página você acompanha resumidamente alguns elementos da trajetória de cada um, assim como, de suas proposições. Vamos até lá!















