Módulo 9: Projeto Terapêutico Singular Na Clínica Da Atenção Psicossocial
Unidade 2: Recursos terapêuticos, estratégias de intervenção e intersetorialidade
Atenção familiar
As transformações sociais, econômicas, políticas e culturais influenciam os padrões e estilos de funcionamento da família, principalmente em uma sociedade de consumo em que trabalho e renda (formal, informal ou programa governamental) são objetos centrais de sobrevivência.
Assim, a concepção de família foi sofrendo modificações ao longo das épocas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o termo “família” refere-se a um “núcleo afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero” e que tem como deveres a educação de crianças e adolescentes, bem como a proteção de idosos e portadores de deficiência (BRASIL, 2005b, p. 17).
Vejamos alguns conceitos importantes na animação a seguir:
Na abordagem sistêmica de família, o sistema familiar é composto por membros que interagem e detêm funções relativamente claras e definidas. Nessa abordagem, as famílias são designadas como funcionais, pois cada um dos seus integrantes sabe suas funções, os seus limites e o seu espaço dentro da família, reconhecendo “quem é o marido, quem é a mulher, quem cuida de quem, quem faz parte de quais atividades” (ROSSET, 2007, p. 67). Nessas famílias, a comunicação é clara, as pessoas conhecem o que pensam e o que sentem, consideram a diferença como uma oportunidade de aprender e não como ameaça ou conflito, aceitam a responsabilidade pelo que sentem e pensam, sem negá-las ou atribuir a outros, e disporão de técnicas para negociar abertamente (SATIR, 1980).
Quando esses aspectos estão comprometidos, haveria maior risco de ocorrer alguma disfunção, gerando problemas familiares que podem aparecer como sintoma em algum membro da família, como anorexia, bulimia, ansiedade, transtornos mentais, depressão, raiva, comportamentos inadequados para a idade, como, por exemplo, a criança fazer as necessidades fisiológicas na roupa, déficit de atenção, hiperatividade, entre outros conflitos.
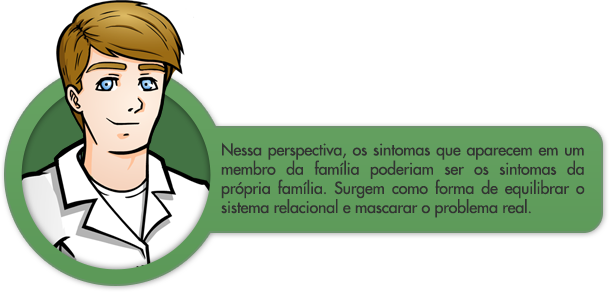
Assim, a família com todos os seus membros deve receber a mesma atenção e cuidado que também são ofertados à pessoa que apresenta sintomas de sofrimento ou transtorno mental. Os familiares, ao compartilhar da história de vida do usuário, também sofrem com os encargos que o transtorno mental acarreta. Logo, a família que vivencia o sofrimento psíquico é aquela que interage com uma condição desafiadora e complexa.
A interação familiar com a pessoa com transtorno mental é dinâmica, pois cada configuração é única e também conflitante, já que a relação interpessoal promove um misto de sentimentos e emoções que interrogam o convívio.
A convivência com o sofrimento psíquico exige da família uma preparação para o acompanhamento, já que ela deverá reestruturar-se para construir um meio favorável à recuperação e manutenção do equilíbrio entre seus membros, tanto nos níveis econômico e social, como psicológico.
Oliveira (2000, p. 21) refere que
diante do diagnóstico de transtorno mental, as famílias em geral, não conseguem compreender o que está acontecendo e desconhecem as possíveis causas que possam justificar tamanha desorganização de comportamentos, conduta e afeto. A partir daí, começa a se configurar um círculo vicioso, no qual o familiar doente sofre e a família também sofre, aumentando essa desorganização, até que alcancem um nível razoável de aceitação e controle sobre o transtorno.
Cada família e seus membros reagem de forma variada diante da pessoa com transtorno mental. Alguns acolhem, outros se envergonham e se isolam; há aqueles que não aceitam e negam o problema, os que rejeitam e abandonam a pessoa; e há também aqueles que cuidam, se cuidam e lutam por seus direitos.
Souza (2006) refere que não existe um modelo padrão para o familiar lidar com a pessoa com transtorno mental. Todavia, há aspectos comuns, como: a família ficar desnorteada diante de uma situação de difícil compreensão, com a manifestação de angústia, impaciência e irritação. Outro aspecto é a vergonha, medo ou culpa diante da exposição e preconceito que o senso comum associa ao transtorno mental.
Ao desenvolver um trabalho com famílias que vivenciam o transtorno mental, Oliveira (2000, p. 20), constatou que
estas sentiram falta, especialmente, no momento inicial da manifestação clínica da doença, de um profissional da saúde que as auxiliasse, prestando informações sobre o significado da doença, suas implicações, cuidados e, principalmente, que lhe proporcionassem conforto, compreendendo suas necessidades enquanto seres que sofrem, entram em pânico frente ao desconhecido e que, portanto, também requerem cuidados.Embora seja compreensível que o desconhecido e a mudança causem diferentes atitudes nos familiares, cabe aos profissionais apaziguar, interceder e mediar as relações entre o familiar e a pessoa com transtorno mental, já que a estrutura de funcionamento e a comunicação familiar pode se fragilizar.
Para exemplificar, observemos o seguinte caso:
Nesse exemplo, percebe-se que o filho aparece como aquele que carrega o sintoma da dinâmica familiar. É importante notar a representação e crença que cada um dos cônjuges tem de família. As regras e fronteiras nessa família não estão claras. A intervenção se deu no intuito de conhecer a dinâmica familiar: como era o cotidiano, o diálogo, as expectativas e representações, e, assim, identificar o padrão de funcionamento, ou seja, como a família funciona, apresentando os pontos de divergência e convergência.
Qualquer membro de uma família que enfrenta um problema que ameace seu padrão de funcionamento é envolvido. A família poderá se apoiar na escolha de formas diferentes de enfrentar o problema a partir de sua cultura e experiências. Quando a família é bem organizada, com um sistema de respeito e continência claro e aceitável, a comunicação e os papéis de um modo complementar exercerão maior apoio à pessoa com transtorno mental.
De acordo com Bernardo (1992, p. 31),
as modernas correntes de saúde mental vieram provar que um sintoma ou uma perturbação de comportamento de um dos membros da família deve ser compreendida e analisada no contexto de suas relações interfamiliares, nomeadamente os papéis e funções que cada membro desempenha na respectiva família, bem como no quadro das condições culturais, religiosas, sociais e econômicas dessa família.
Os membros que constituem a família precisam ser incluídos no cuidado prestado à pessoa com transtorno mental, pois é o próprio grupo familiar quem pode determinar o que é melhor para si mesmo (OLIVEIRA, 2000). O profissional que acompanha famílias deve considerar a realização de uma reflexão sobre o seu próprio modelo compreensivo de família e pessoa com transtorno mental, para que seu julgamento, suas crenças, valores e atitudes não interfiram na relação profissional com outras famílias.
De acordo com Souza (2006), a abordagem familiar deve:
- acolher e escutar a família com o consentimento do usuário, o que permitirá o compromisso com o cuidado;
- considerar que é importante que o profissional e a equipe oportunizem a família a refletir as próprias ações;
- ofertar atenção e dar a entender que as medidas cabíveis estão sendo realizadas frente ao caso, principalmente quando o familiar está angustiado e com dúvidas;
- considerar que a família deve ser envolvida na construção do histórico do usuário;
- incluir a família no projeto terapêutico singular (ROSA, 2005);
- atender regularmente a família no serviço e visita domiciliar, mas respeitando o espaço do usuário;
- considerar que é necessário incluir o familiar em atividades que envolvam as necessidades humanas básicas do usuário, principalmente quando se encontra sem condições de cuidar de si;
- esclarecer os diversos tipos de tratamentos, mesmo quando o familiar sente-se convicto com determinado tipo de procedimento;
- reforçar que, durante uma internação, é válido manter os vínculos familiares de modo que o usuário não se sinta sozinho. Diamantino (2010) alerta que as ambivalências afetivas devem ser observadas de forma a influenciar em modos contínuos ou descontínuos de cuidado;
- refletir sobre os direitos e deveres do familiar no campo da saúde mental;
- considerar que em situações de crise um clima de tensão se instala, e a permanência constante do familiar diminui este estado;
- dialogar com o familiar sobre quais são os seus limites como cuidador e esclarecer o cuidado profissional neste contexto;
- caso a crise fragilize as relações familiares, a permanência do paciente no serviço de saúde mental se faz necessária, mas deve-se avaliar regularmente a aproximação do familiar.
| Saiba Mais |
MELMAN, J. Família e doença mental: repensando a relação entre profissionais de saúde e familiares. São Paulo: Escrituras Editora, 2001.
Portanto, o profissional e equipe que possuam como finalidade um cuidado ético e integral devem incluir a família no cotidiano dos serviços, pois privilegiar apenas a pessoa com transtorno mental torna o tratamento fragmentado e descontextualizado.
Concluindo, verificamos neste estudo que a Atenção domiciliar em saúde mental é um importante recurso terapêutico, que possibilita aos profissionais dos serviços acompanhar, continuar e promover o cuidado na residência do usuário e família. Vimos também que a família deve ser incluída no cuidado prestado à pessoa com transtorno mental, pois é ela própria quem pode determinar o que é melhor para s seus integrantes.










